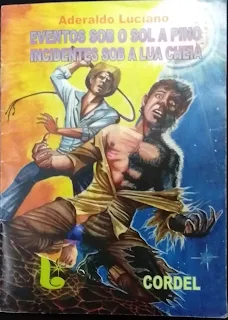A rua S. José era a única rua calçada e varava toda a encosta do alto
ocupado pela cidade. E por ela transitavam, indo e vindo, longas e
lentas enfieiras de burros jumentos, as cangalhas barrigudas sustendo
duas ancoretas de cada lado. Assim se abastecia a população. Água do
“olheiro”, como se dizia da fonte copiosa, lá em baixo, perto da Estação
da Estrada de Ferro. Era meio salobra e quem podia mandava vir água
fria, do engenho “Diamante”, para beber.
No alto, a rua São José
desembocava no largo do Mercado. Aí estava todo o Comércio. Casas que
reuniam simultaneamente lojas de tecidos, ferragens, comestíveis,
sapataria. Ao centro o Mercado majestoso, em torno do qual se
atravancava, em dia de feira, uma multidão de sacos de farinha, de
milho, de feijão, além de garajaus de voador, caçuás de tainhas
sal-presas, balaios de tapiocas e beijus, cestos de cajus, cestos de
mangabas, cestos de massarandubas, molhos de cana, pencas de urupemas e
de chapéus de carnaúba, louça de barro, mantas de carne seca, galinhas,
leitões, cabritos, passarinhos e gente.
Para cima do largo do
Mercado começava o Patú, bairro pobre, de ruas esburacadas e tortas, com
uns nomes pitorescos: rua do Vintém, Rabo da Cachorra, rua do Arame...
Do alto do Patú os olhos se derramavam no pelo verde dos canaviais sem
tamanho, donde emergiam, salteadas, chaminés esguias, perfiladas como
sentinelas fantásticas naquela imensidão. É verdade que muitas não
desprendiam mais os grossos rolos de fumaça do bagaço queimando para
cozinhar as tachas. O mato subia por elas, tinham a borda irregular como
boca desdentada. Mas a gente, de longe, não percebia isso e elas se
mostravam tão belas quanto as outras...
Eu gostava de ir
reconhecendo cada Engenho pelo seu boeiro: Carnaubal, S. Francisco, Ilha
Bela, Diamante, Guaporé, Cruzeiro, Capela, Laranjeiras, Guanabara,
União, Torre, Oiteiro, Mucuripe, Emburana, Bica.
Quantas vezes
estive neles e me abismei nas suas máquinas chiadoras de banguês...
Aspirava o cheiro bom do mel virando rapadura. Comia torrões de açúcar
bruto. Bebia caldo de cana apanhado com uma cuia no paiol. Chupava cana,
descascando com os dentes. Embrenhava-me nos partidos úmidos espiando o
corte. Mas o meu supremo encanto eram os engenhos em que a cana para
moagem se transportava em pequenos vagões sobre trilhos. Desprezava os
em que este serviço fosse feito em carros-de-bois ou em cambitos, em
lombo de burro.
Lembrança forte que me ficou também pendurada nos
olhos de menino foi a dos carros dos senhores de engenho. Quase todos
eram de um tipo comum e se chamavam troles. Corriam puxados por uma
parelha de cavalos com guisos tilintando nos arreios, tinham dois bancos
com assento de palhinha, eram completamente abertos e descobertos, de
modo que as senhoras andavam neles protegidas por guarda-sóis. O engenho
“S. Francisco” destacava-se por ter um verdadeiro carro: preto, todo
fechado, assentos estofados, cortinas nas portinholas e o lugar
dobolieiro na frente, bem alto.
Também vi surgirem os primeiros
automóveis, depreciados e negados pelos que não podiam tê-los... Eram,
de fato, veículos exóticos, quase temidos, espantando com o seu ronco as
pobres estradas somente acostumadas à cantiga fanhosa dos
carros-de-bois ou sacolejar nervoso dos guisos dos troles...
Mas o
orgulho maior da cidade estava na sua igreja. Tinha sido construída no
tempo da escravatura as pedras carregadas em cabeça de gente, escravos
mandados para isso, brancos piedosos fazendo-o por devoção ou
penitência, cordões humanos num trabalho penoso e paciente, como de
formigas.
O templo cresceu, tornou-se o maior do estado, as torres
as mais altas. Delas ao que se diz, se avista o mar a não sei quantas
léguas. São duas, de pontas muito agudas, encimadas por um galo.
Também a um filho do Ceará-Mirim ninguém dissesse que sua igreja não é a
maior do estado, as torres as mais altas, os sinos os mais sonoros, os
altares os mais bonitos, os santos os mais milagrosos...
Que tristeza intensa e funda a que senti ao voltar em visita ao vale do Ceará-Mirim.
Os antigos engenhos, cheirosos e pitorescos, encontrei-os paralisados,
sob o advento das Usinas. Suas edificações, sem serventia, se mostravam a
caminho da ruína. O mato nascia na boca das chaminés outrora
orgulhosamente fumegantes.
Muitos já estavam despojados das moendas e das caldeiras, vendidas como ferro velho...
As duas usinas, São Francisco e Ilha Bela, é que engolem e trituram, praticamente, toda a cana produzida no vale afamado.
Mas não foi daí que veio principalmente minha tristeza imensa e funda
ao voltar do vale do Ceará-Mirim. O que me acabrunhou, o que me sucumbiu
foi o que vi no “Guaporé”. Guardava dele imagem antiga, do tempo em que
já não havia o engenho em atividade, mas havia a casa-grande, rica,
nobre, diante da qual se desdobrava maravilhoso jardim. Parecia aos meus
olhos infantis coisa de contos de fadas. Comparava-o também a certos
postais de terras remotas. E ainda agora recordo-lhe o recorte
caprichoso dos canteiros floridos, os mármores ricos, os azulejos
coloridos, as fontes frescas, os recantos misteriosos... Sensação de
beleza e de nobreza era a que me davam a casa e o jardim do “Guaporé”.
O que fui encontrar, porém, numa visita anos adiante, foi o mato
recobrindo o que era outrora o jardim e, lá ao fundo, já no limite do
canavial, uns melancólicos restos de paredes, mas dolorosamente
melancólicos quando a gente descobre neles alguns antigos e belos
azulejos que ainda resistem.
Quanto à casa-grande, tornara-se uma
cabeça-de-porco. Em cada peça imunda, esburacada, vivia uma família de
trabalhadores braçais da Usina, entre trapos pendurados, baús e redes
enroladas. Pela calçada que protegia a casa em volta, outrora guarnecida
de gradis de ferro, transitavam lagartixas em assustados passeios entre
uma fenda e outra.
Ponho-me a pensar nos móveis antigos que ali
conheci, nos quadros, nos candeeiros, em tudo que ainda existia, quando
visitava o “Guaporé” muito criança, porém atento e deslumbrado...
Está certo, vieram outros tempos e com eles a Usina poderosa, cujos
senhores não precisam de casa-grande, pois são representados por
“escritórios” em algum andar de edifício no Recife, no Rio...
Tudo
isso decorre do estilo de uma nova idade, mas também, que diabo, não era
preciso degradar a casa-grande do Guaporé, mesmo que não mais
precisassem dela...
Essas impressões datam de janeiro de 1959. Por
Deus que, depois delas, o Guaporé veio a ser lembrado e até considerado
para efeito de tombamento e restauração, como de fato ocorreu.
Nota:
Texto de Umberto Peregrino, extraído do livro Crônica de uma cidade chamada Natal, editado em Natal/RN, pela Clima, em 1989, p.76-79.
Obtido através de pesquisa realizada pelo Acadêmico Francisco Martins
Disponível em: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008452352746. Visualizado em 29 novembro 2017